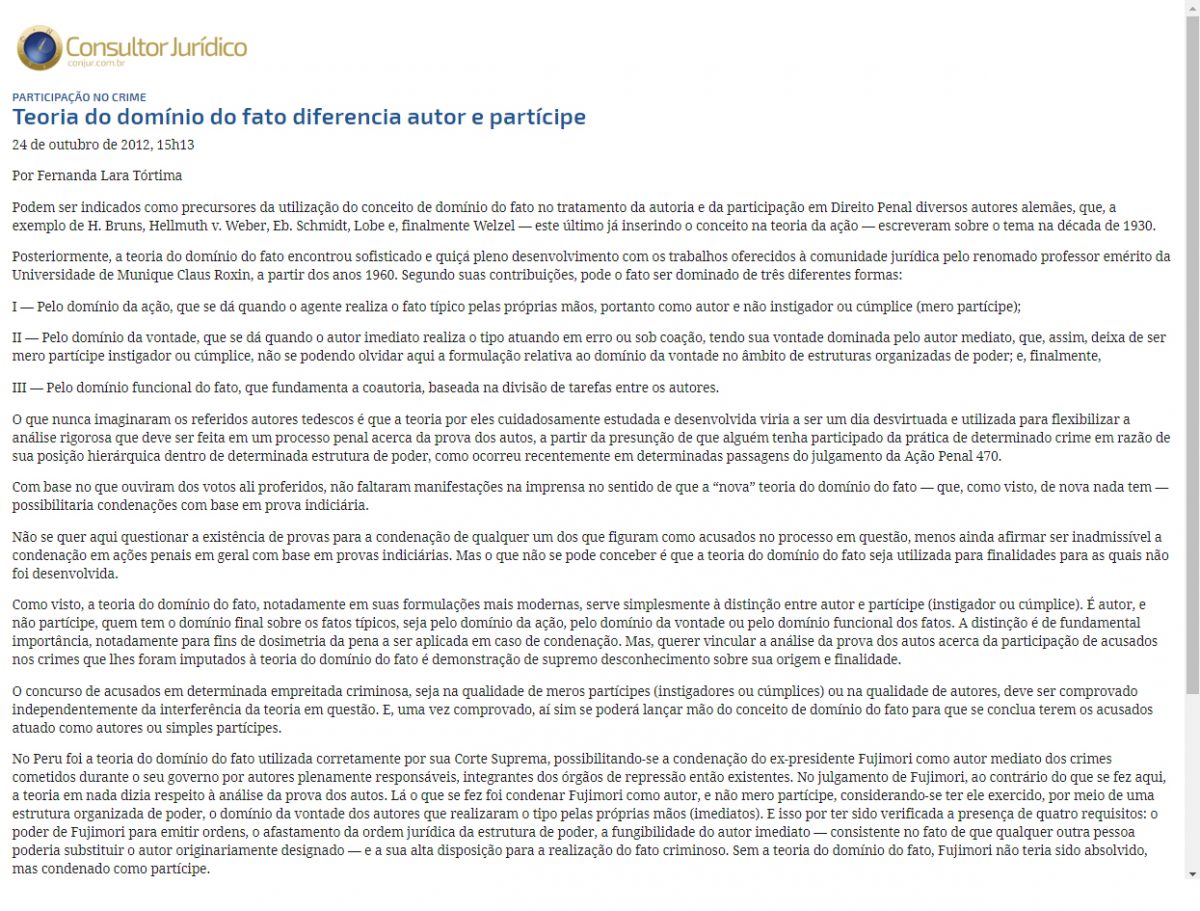Podem ser indicados como precursores da utilização do conceito de domínio do fato no tratamento da autoria e da participação em Direito Penal diversos autores alemães, que, a exemplo de H. Bruns, Hellmuth v. Weber, Eb. Schmidt, Lobe e, finalmente Welzel — este último já inserindo o conceito na teoria da ação — escreveram sobre o tema na década de 1930.
Posteriormente, a teoria do domínio do fato encontrou sofisticado e quiçá pleno desenvolvimento com os trabalhos oferecidos à comunidade jurídica pelo renomado professor emérito da Universidade de Munique Claus Roxin, a partir dos anos 1960. Segundo suas contribuições, pode o fato ser dominado de três diferentes formas:
I — Pelo domínio da ação, que se dá quando o agente realiza o fato típico pelas próprias mãos, portanto como autor e não instigador ou cúmplice (mero partícipe);
II — Pelo domínio da vontade, que se dá quando o autor imediato realiza o tipo atuando em erro ou sob coação, tendo sua vontade dominada pelo autor mediato, que, assim, deixa de ser mero partícipe instigador ou cúmplice, não se podendo olvidar aqui a formulação relativa ao domínio da vontade no âmbito de estruturas organizadas de poder; e, finalmente,
III — Pelo domínio funcional do fato, que fundamenta a coautoria, baseada na divisão de tarefas entre os autores.
O que nunca imaginaram os referidos autores tedescos é que a teoria por eles cuidadosamente estudada e desenvolvida viria a ser um dia desvirtuada e utilizada para flexibilizar a análise rigorosa que deve ser feita em um processo penal acerca da prova dos autos, a partir da presunção de que alguém tenha participado da prática de determinado crime em razão de sua posição hierárquica dentro de determinada estrutura de poder, como ocorreu recentemente em determinadas passagens do julgamento da Ação Penal 470.
Com base no que ouviram dos votos ali proferidos, não faltaram manifestações na imprensa no sentido de que a “nova” teoria do domínio do fato — que, como visto, de nova nada tem — possibilitaria condenações com base em prova indiciária.
Não se quer aqui questionar a existência de provas para a condenação de qualquer um dos que figuram como acusados no processo em questão, menos ainda afirmar ser inadmissível a condenação em ações penais em geral com base em provas indiciárias. Mas o que não se pode conceber é que a teoria do domínio do fato seja utilizada para finalidades para as quais não foi desenvolvida.
Como visto, a teoria do domínio do fato, notadamente em suas formulações mais modernas, serve simplesmente à distinção entre autor e partícipe (instigador ou cúmplice). É autor, e não partícipe, quem tem o domínio final sobre os fatos típicos, seja pelo domínio da ação, pelo domínio da vontade ou pelo domínio funcional dos fatos. A distinção é de fundamental importância, notadamente para fins de dosimetria da pena a ser aplicada em caso de condenação. Mas, querer vincular a análise da prova dos autos acerca da participação de acusados nos crimes que lhes foram imputados à teoria do domínio do fato é demonstração de supremo desconhecimento sobre sua origem e finalidade.
O concurso de acusados em determinada empreitada criminosa, seja na qualidade de meros partícipes (instigadores ou cúmplices) ou na qualidade de autores, deve ser comprovado independentemente da interferência da teoria em questão. E, uma vez comprovado, aí sim se poderá lançar mão do conceito de domínio do fato para que se conclua terem os acusados atuado como autores ou simples partícipes.
No Peru foi a teoria do domínio do fato utilizada corretamente por sua Corte Suprema, possibilitando-se a condenação do ex-presidente Fujimori como autor mediato dos crimes cometidos durante o seu governo por autores plenamente responsáveis, integrantes dos órgãos de repressão então existentes. No julgamento de Fujimori, ao contrário do que se fez aqui, a teoria em nada dizia respeito à análise da prova dos autos. Lá o que se fez foi condenar Fujimori como autor, e não mero partícipe, considerando-se ter ele exercido, por meio de uma estrutura organizada de poder, o domínio da vontade dos autores que realizaram o tipo pelas próprias mãos (imediatos). E isso por ter sido verificada a presença de quatro requisitos: o poder de Fujimori para emitir ordens, o afastamento da ordem jurídica da estrutura de poder, a fungibilidade do autor imediato — consistente no fato de que qualquer outra pessoa poderia substituir o autor originariamente designado — e a sua alta disposição para a realização do fato criminoso. Sem a teoria do domínio do fato, Fujimori não teria sido absolvido, mas condenado como partícipe.
Como se vê, ali teve a teoria, adotando-se formulação criada pelo professor Claus Roxin, aproveitamento adequado. Já no julgamento em andamento em nossa Corte Suprema, além de se lançar, de forma absolutamente descontextualizada, que determinados acusados tinham domínio “final” ou “funcional” do fato, nem se chegou a indicar de que forma se pretendeu utilizar a teoria em questão. De resto, no caso brasileiro, a teoria dos aparelhos organizados de poder sequer seria adequada, pois um aparato organizado de poder é, ao menos segundo a formulação original da teoria, uma organização alheia ao direito, isto é, algo como um grupo terrorista, um estado dentro do Estado, e não um partido político legalmente reconhecido.
A teoria do domínio do fato assumiu no julgamento da Ação Penal 470 ares de novidade. A adoção de teorias aparentemente herméticas, e, de toda sorte, conhecidas por uma parcela pequena da população e mesmo da comunidade jurídica, costuma servir de álibi para drásticas alterações de orientação de entendimento jurídico. A culpa passa a ser da “nova” teoria, como se ela não existisse antes, e como se servisse aos fins para os quais foi utilizada.
Fernanda Lara Tórtima é advogada criminal e presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB-RJ.